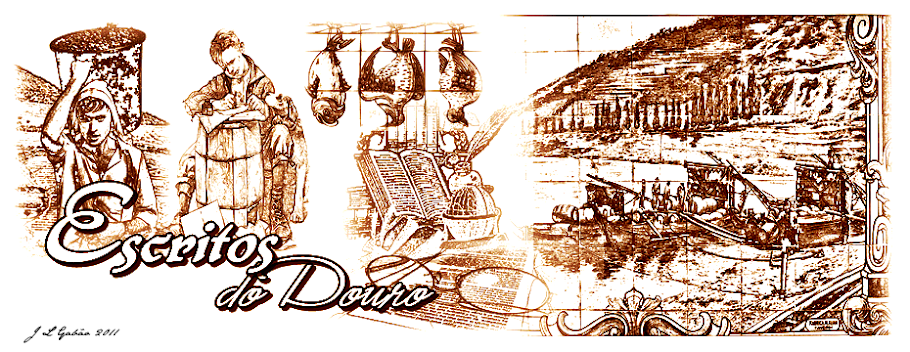Manhã cedo, o sol a erguer-se, já se ouvia a chiadeira do carro de bois do Peche que parecia vir da lonjura, acordando o silêncio da terra e despertando as gentes para a faina das vinhas. Era um ruído agudíssimo, de ferro oxidado, que aumentava à medida que se aproximava. Os cães vinham ladrar aos quintais, os galos cantavam nas casinholas, a neblina ressumava sobre a concha de Remostias, o vale de Abraão era ainda uma sombra, os caminhos entoavam as primeiras tosses, os homens esperavam os Feitores no Paredão, mastigavam-se as côdeas do dia anterior, a lamparina da Capelinha de S.Gonçalo continuava a cumprir a devoção dos vivos, abriam-se os portões, as lareiras expeliam os primeiros fumos e o perfume matinal alegrava os acordares.
O Peche vivia – é um modo de dizer - ali para os lados do Poeiro, num mísero saguão, paredes meias com a loja do Lindo – assim chamava ao animal –, partilhando cheiros e tecto, já que as camas, sendo ambas de poácea seca, tinham - ao menos isso - a diferença da condição. O Peche foi um grande carreiro do Douro. Ainda hoje sinto uma saudade tão forte que parece que o estou a ver: meão, boina esburacada como se tivesse servido para um qualquer caçador experimentar a pontaria, faces com sulcos de necessidades escondidas numa espessa barba cinzenta, um estrabismo acentuado (mirolho chamavam-lhe os velhacos), sempre com as mesmas calças de cotim coçado seguras por uma guita, as botas compradas, há um ror de anos, numa mal lembrada festa da Santa Eufémia. Mesmo no seu aviltante viver, tinha um modo tão cativante que até sonhei ser rico para com ele dividir um palácio onde nos sentássemos à mesma mesa. Foi ele que me despertou as primeiras revoltas pelas injustiças do mundo e a repulsa contra a pobreza mais deprimente. Quantas vezes, mal o via, me questionava porque dá a sorte, a uns, tudo o que querem e, a outros, nada.
Era o tempo do medo e da fome que não poupava nem os que tinham mais nem os que tinham menos - agrilhoava na proporção. O medo vinha de todo o lado, uma coacção que se sentia no bafo dos dias, na oralidade encadeada das estórias da submissão, um fatalismo que não concebia perguntas porque quem mandava não tinha rosto, só o nome amedrontava, e sabe-se que os grandes medos nascem na reputação. A fome, mais do que uma precisão do estômago, era uma indignidade que humilhava qualquer carácter, uma urgência de sustento que, não matando, moía a qualidade de se ser gente e dramatizava a repartição por diversas bocas; era a impossibilidade do ter e a indigência do ser.
Onde começava a rampa de S. Gonçalo, esburacada como se atingida por um obus, o Peche parava o carro, destravava-o por inteiro, colocava-se à frente com a mão direita na aguilhada e a esquerda na ponta direita do bovídeo, estimulava-o com carinho e um ou outro ligeiro toque com o ferrão, e o Lindo ganhava lanço, afocinhava até o chão, levantava o jugo, para só parar, com a sua pipa ainda vazia amarrada por cordas de vários nós, junto à porta do armazém em que se ia realizar a carregação. O carreiro chegava-se a ele, fazia-lhe festas, deixando-o lambuzar-lhe as mãos, «Meu Lindinho, vou dar-te de comer, sim?», dobrava a palha, metia-lha na boca, e o seu amigo ruminava com os olhos a piscarem. Nunca, ao Peche, lhe escutaram um azedume, um ódio contra a vida. O mutismo era o seu estado natural, falava por obrigação, e o seu olhar, apesar de divergente, tinha o determinismo da privação. O Lindo, mais do que o interesse da sua sustentação ou o justificativo da sua profissão, era o substituto das ausências humanas, a companhia que lhe recreava a vida.
Quando as portas do armazém se abriam, preparadas a balsa e a torneira, o vinho jorrava do tonel como sangue de veia explodida. O meu Avô, sentado num pipo na perpendicular, de bengala ao lado, fumando tabaco de onça, conferia mais com a presença do que com os olhos. Nesse tempo, os lavradores eram mesmo lavradores, viviam do que dava a terra e por isso a fiscalizavam com preocupação sobrevivente; nada lhes escapava do seu trato: a escava, a poda, a erguida, o herbicida, a cava, a adubação, o sulfato, o enxofre, a redra e a esfolha. Calculavam, com o saber da experiência, as (im)previsões do tempo e da vida; eram escravos dela e, mesmo que a saúde lhes dificultasse a passada, isso não lhes condicionava a exaltação dos montes e só deixavam de os percorrer e amar quando a morte os tolhia.
Carregar uma pipa, além de trabalho arrastado, era vender as preocupações e os suores de um ano, às vezes de muitos. Atestavam-se os almudes, até ao orifício da correcta medição, com as canadas bem cheias, e apontavam-se com quatro riscos verticais e um oblíquo como quem contava jogos de sueca. Depois, subindo pelo escadote, um homem despojava-os num enorme funil introduzido naquela, num vai e vem monótono. O fartum espalhava-se pelo caminho e infiltrava-se pelo soalho da casa numa antecipação inebriante de vindima. Os que passavam, rondando a porta, aproximavam-se e cumprimentavam com um brilho apelativo no olhar. O primeiro a provar era sempre o Peche. Tirava a boina, saudava à saúde dos presentes, escorripichava o quartilho, estalava os lábios de satisfação e limpava-os à manga da camisola. Era apreciador, embora, algumas vezes, abusasse na avaliação... Entretinha-se com uma tira de bacalhau salgado, num desenfastiado ougar. Os outros despachavam-se com a pressa de quem desejava repetir, alguns indo, para o fundo da rampa, acenar, pateticamente, a qualquer automóvel que, raramente, descia para a Régua ou subia para Santa Marta. Havia um, o Manuel Manco, arrastando-se, como um lagarto, de joelhos dobrados guarnecidos com umas patelas de borracha e umas solipas nas mãos que, ao terceiro ou quarto caneco, disparatava, encostado ao muro sobranceiro à estrada, numa imitação bronca de banda de música: «É a banda de S. Cipriano!», arremedava ele, cravando a manápula esquerda no sovaco direito e levantando e descendo o respectivo braço. Dava, então, um concerto peidorreiro. «É o trombone!», moinava, enquanto imitava os pratos com uma guturalidade de momo.
Fiscalizava-se o enchimento do casco batendo-se-lhe, de tempos a tempos, com uma chave de apertar, e, quando testo, martelava-se um batoque envolto num pedaço de serapilheira. O Peche verificava a segurança das cordas e das estacas, incentivava o Lindo, soltava-lhe o freio, sentava-se na traseira com as pernas suspensas, e lá iam eles direitinhos à Casa do Comissário que comprara o vinho. Até ele voltar, fechava-se o armazém que outras tarefas aguardavam. Eu corria para o fundo do quintal e só parava de o ver depois da curva do Fial, a chiadeira num eco imperceptível.
Numa manhã de Maio, de fértil Primavera, encontraram-no, lavado em lágrimas, encolhido na ombreira do seu tugúrio. Quando acordou, não sentiu o Lindo; chamara-o, mas nada. Mal se ergueu, viu-o retezado na palha humedecida, rodeado de excrementos. Gritou, mas ninguém o ouviu; ele costumava despertar com a lua ainda em demora. Foram os primeiros cavadores, vindos do Ribeiro, que o encontraram no pranto de desespero. Passaram palavra e combinaram enterrar o animal num declive do Toimil entre uns castanheiros que rodeavam o poço. Ao fim da tarde, mal despegaram do trabalho, uma mancheia de homens içou o animal para a caminheta que o Zeferino emprestara. O sol ainda brilhava no vale de Jugueiros, apontando a sepultura. Esperaram um bom bocado até que a enorme vala - que outras boas almas se haviam prontificado a abrir – ganhasse a largueza e a fundura necessárias. Quando empurraram o corpo do Lindo, inchado como um odre, o Peche caiu redondo. Os presentes ficaram sem o que dizer e fazer; alguns não impediram uma lágrima, outros sentenciaram uma bebedeira. Solevaram-no com cuidado e berraram-lhe o nome até o rosto desfigurado mostrar a sua normalidade estrábica.
Depois disso, o velho carreiro, de mãos nos bolsos, caminhar de títere e olhar distante, arrastava-se, sumido, pela aldeia. Falava sozinho, como se o seu boi ainda o levasse na chiadeira da sonolência, mal respondia a um cumprimento e só comia o que lhe davam. Nunca pedia, embrulhado na resignação, mas muitos não lhe negavam uma ajuda. Andava dias e dias fora de Lobrigos, de feira em feira, à procura de um boi igual ao seu, que nunca encontrava e, que encontrasse, nunca poderia comprar, regressando sempre de olhos alagados. Diziam que enlouquecera, deixara de fazer a barba nas manhãs de Domingo, os joelhos ao léu nas calças de cotim, camisolão desgolado, a boina num benairo de sebo, os polegares saídos das botas. Um dia, alguém o chamou e o vestiu com umas roupas dispensáveis. Houve quem se risse, chamaram-lhe doutor e faia. Por pouco prazo. Retiraram-no da palha e enterraram-no, por misericórdia, no cemitério do Espírito Santo, numa tarde de Janeiro, quando a luz do dia se escapava por entre os socalcos. Quando lá vou falar com os meus, bem queria saber da sua campa. Já procurei e perguntei por ela, mas ninguém me sabe dizer. Nem uma palavra, nem uma letra. Sei-o ali, abandonado num canto qualquer, a dizer-me que a grande riqueza das pessoas é a boa recordação que deixam.
 - M. Nogueira Borges - LAGAR DA MEMÓRIA, (Aos meus mortos e aos meus vivos).
- M. Nogueira Borges - LAGAR DA MEMÓRIA, (Aos meus mortos e aos meus vivos).
Outros textos de Manuel Coutinho Nogueira Borges
neste blogue!
*Manuel Coutinho Nogueira Borges - escritor e poeta do Douro-Portugal: Nasceu no lugar de S. Gonçalo, freguesia de S. João de Lobrigos, concelho de Santa Marta de Penaguião, em 12.10.1943. Faleceu em 27 de Junho de 2012 na cidade de Vila Nova de Gaia. Frequentou o curso de Direito de Coimbra, cumpriu o serviço militar obrigatório em Moçambique, como oficial mil.º e enveredou pela profissão de bancário. Tem colaboração dispersa por diversos jornais, nomeadamente: Notícias (de Lourenço Marques); Diário de Moçambique (Beira), Voz do Zambeze (Quelimane), Diário de Lisboa, República, Gazeta de Coimbra, Noticias do Douro, Miradouro, Arrais e outros. Em 1971 estreou-se com um livro de contos a que chamou "Não Matem A Esperança". (In 'Dicionário dos mais ilustres Trasmontanos e Alto Durienses', coordenado por Barroso da Fonte. Manuel Coutinho Nogueira Borges está no Google.
Clique nas imagens para ampliar. Foto original do Peche cedida por José Alfredo Almeida. Edição/actualização de imagens e texto de J. L. Gabão para o blogue "Escritos do Douro" em Março de 2013. Também publicado no jornal semanário regional "O ARRAIS" edição de 27 de Março de 2013. É permitido copiar, reproduzir e/ou distribuir os artigos/imagens deste blogue desde que mencionados a origem/autores/créditos.