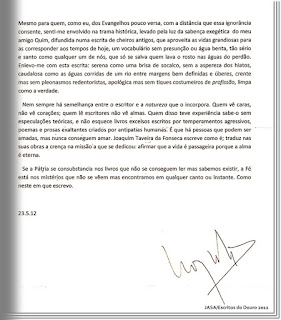Por João de Araújo
Correia
Tal ceguinho era
religioso por vocação e por necessidade. Gostava de assistir às missas, rezar
pelos benfeitores, ouvir a palavra de Deus orada do púlpito pelos melhores
jesuítas e de adormecer à noite com as camândulas presas entre os dedos magros
– de tísico... A religião dava-lhe prazer e rendia-lhe coroas. Vendo-o tão pio,
as beatas ricas fartavam-no de esmolas e até lhe inventaram o vício de fumar
para ele se entreter – as santas criaturas.
Morava numa casa
térrea ao rés do adro e tinha por costume sentar-se nos degraus de um cruzeiro
levantado diante da igreja. Ali vivia – preso àquelas pedras com mais amor do
que ao buraco da casa. Dali espreitava tudo – se é que os cegos espreitam. Não
espreitava, mas ouvia. Dava relação de quantos passos feriam a testada do
templo. Passos apressados de homens que não tiram o chapéu a ninguém – menos a
uma cruz. Passos frívolos de senhorinhas que fazem vénia, mas ligeira, a Nossa
Senhora. Passos doentios de senhoras de
idade, cuja
reverência ao Santíssimo é meiga e prolongada. Passinhos de criança sobre o
saibro, tic, tic, davam ao ceguinho a impressão do primeiro granizo que pinga
na areia.
Afeito àqueles
ruídos, conhecia-os todos, identificava-os, sabia o nome aos pés que os
produziam. Tinha que fazer, contando-os e nomeando-os, porque o adro era aberto
e muita gente o atravessava para ir mais depressa à sua vida.
O cego não pedia
esmola. Cumprimentava e recebia. Quando, no meio daquele perpassar de pés e
pernas, reconhecia amigo ou devota, dizia:
– Senhor E, o dia
está bonito.
Ou
– Minha Senhora! A
missinha amanhã é mais cedo. A Senhora sabe... Disse o Senhor Abade...
Estas frases eram a
salva estendida à mão caritativa. Caíam nela moedas de prata e de cobre, que o
cego apartava em saquitéis. Era muito metódico.
O trato devoto com
senhoras e senhores finos dera ao ceguinho modos adamados.
– Por este não vem
mal ao mundo, dizia um fidalgote pálido que tomava o Senhor todos os dias.
Tinha o ceguinho
voz monocórdica e não fazia gestos violentos como pessoa ordinária. Era comedido,
quase amputado no que representasse força, ousadia, sinal de vida.
– Por este não vem
mal ao mundo, anuíam baixinho, dando topetadas, as beatas velhas.
Não, pelo ceguinho
não vinha mal ao mundo. Todavia, ele não era insensível à aproximação da carne
feminina, principalmente a carne perfumada. Distinguia as senhoras, não só pelo
passo leve e curto, mas também pelo cheiro. Havia uma, cujo aroma o inebriava.
Mal vinha à esquina do templo, já a sentia como perdigueiro que dá tento de caça.
Dilatava as narinas, mas... imediatamente as coçava, disfarçando, e dispunha-se
a falar à aparecida com unção.
– Minha Senhora,
amanhã a missinha é um pouco mais cedo.
– Já sei, Fernando.
Pega lá, olha, para rebuçados.
A senhora
afastava-se, e ele seguia-lhe o rasto com a ponta do nariz afilada para o
aroma.
Dentro da igreja,
identificava os perfumes com as vozes.
– Aquela, a que canta
alto, é a que cheira a cravo.
– A de voz rouca espalha um cheiro grosso que
me enjoa.
– Esta, sim, tem
voz de pintainho, mas é desenjoada. Cheira às ervas do monte.
Os pecados do
ceguinho, como se vê, eram latentes, ocultos.
No entanto, mordia
às vezes os lábios para os não revelar.
– Ah! Minha
Senhora, que lin... Sim, minha Senhora, amanhã a missinha é um pouco mais cedo.
– Obrigado a Vossa
Excelência. O ceguinho nunca se esquece de pedir a Nosso Senhor pela saudinha
de Vossa Excelência. Que lin...
Seguia-a com o
nariz como de costume. Olfacto terrível!
Mas, não só o
olfacto. O ouvido também... Era de um apuro! Cativava-se de todo o som, próximo
ou longínquo, e guardava de memória para sempre o som harmonioso.
– Muito bem cantou
o Veni aquela que cheira à erva do monte! Parece impossível!
Dizia isto no
degrau do cruzeiro quando recordava passos de festividade. Mas, dizia-o sem
falar. Mexendo os beiços, mal articulava as sílabas. Não descobria o peito.
Um dia, sem mais
nem menos, pediu a um irmão, com quem vivia, que lhe comprasse uma guitarra até
cem mil réis.
– Pago-ta às
migalhinhas... Vê se ma compras. Se ma comprares, és bom irmão. Se ma não
comprares, mereces ser ajudado de Deus, mas é à moda... Oxalá que todos os
cegos do mundo te amaldiçoem entre a Hóstia e o Cálice.
– Carago! És mau
como as cobras...
–Agora sou! Sou ceguinho.
Dias depois, tinha
a guitarra. Não se sabe como o irmão se houve para a conseguir. Era pobre como
Job. Comprou-a por milagre para evitar a praga rogada entre a Hóstia e o
Cálice.
Com a guitarra nas
unhas, o cego desforrou-se da tristeza e humilhação a que votara corpo e alma
durante uns poucos de anos. Rompeu a capa que o cobria – capa feita do aniquilamento
de todas as vontades. Pôs-se a tocar pedaços de amor musical, notas quentes
trazidas pelo vento desde a cidade ruidosa até o adro silencioso.
–Não deves tocar
isso, dizia-lhe uma senhora.
Ele porém não a
ouvia. Erguia-se do sopé da cruz, metia-se no cardenho e iluminava-o todo com
um zangarrear feito de sol.
– A guitarra deu
cabo do ceguinho. Oxalá não seja a sua perdição, temia outra senhora.
Como de facto. A
guitarra deu cabo do ceguinho. Deu-lhe cabo da compostura, do arranjo com que
se sentava nas escadas da cruz, e até lhe deu cabo da voz monocórdica. Era com
altos e baixos que proferia:
– Minha Senhora,
amanhã a missinha é um pouco mais cedo. Disse o Senhor Abade.
– Está bem, está
bem.
As senhoras,
estranhando-lhe o modo novo de pronunciar a frase, fugiam dele. Davam à fuga,
endireitando o busto, o tom particular da ira amordaçada. Só elas sabem como se
faz isto.
A escarcela do
cego, outrora pingue de coroas, começava a ressentir-se da metamorfose do dono.
Passava dias sem se estrear com um tostão.
– Paciência. Não
matei a cabra. Mato-a amanhã.
O homenzinho, que
tinha sido anjo no âmbito da igreja, passara a falar calão de motorista.
Adquirira desenvoltura feia em cego. Parecia maluco. Tinha febre e tosse.
Muito magrinho,
cada vez mais magrinho, começou a ficar pela cama dias seguidos. Para se
entreter, pedia à cunhada o favor de lhe chegar a guitarra e tocava. E até
cantava!
– Bossemecê está
doido de todo. Rais me parta se lhe torno a chegar às unhas esse diabo dessa
biola.
O cego ria-se como
perdido. Fazia-lhe cócegas a zanga pitoresca de Tomásia – sua cunhada.
– Ai, Tomasinha, a
menina é um anjo. Fazia lá essa desfeita a um cego!
– Um cego que não
tem juízo... Sabe que está um chato? Bom tempo, em que as coroas luziam nesta
casa.
– Hão-de tornar a
luzir, Tomasinha!
– Quando?
– Sabe o que me
lembrou, Tomasinha? Arranjar um rapaz que cante e ir ver mundo, tocar por aí
fora.
– Habia de fazê-las
frescas, tísico de todo...
O cego amuou, mas,
daí a pouco, em voz meio sumida, confusa, como se estivesse a sonhar, ia
dizendo:
– A Tomasinha é um
anjo. Parece a senhora que canta mal e cheira às ervinhas do monte.
– Doido assim!,
exclamou a cunhada.
O cego estava a
morrer ou fingia que estava a morrer. Não tocava guitarra, nem pegava em
comida. Mas, lembrando-lhe a cunhada o dever de se reconciliar com Deus, disse
que era cedo.
– Quando for
altura, concluiu.
– Quando for
altura, está bossemecê a contas. Lembre-se que já daí se não alebanta.
O cego respondeu
como se a não ouvisse:
– A menina é um
anjo...
Passaram-se dias
sem que o cego pegasse em comida ou pedisse a guitarra para zangarrear. Até que
uma tarde, quando o sol lhe varria a cama com um rebotalho de luz amarela, o
cego implorou:
Deixe-ma ver agora.
Quero despedir-me dela para sempre.
A cunhada
aproximou-se do leito condoída.
– Está aqui,
tataranha! Aqui!
Neste momento, o
cego subjugou os pulsos da mulher e beijou-lhe à pressa as mãos, a face e os
cabelos.
– De vossemecê foi
que eu me quis despedir. A guitarra? Que a leve o Diabo!
– Seu porco, seu
ladrão! O Quim há-de sabê-lo!
No dia seguinte, o
Quim, a escumar pelos cantos da boca, intimou o ceguinho a sair de casa.
– Perdoa-me, Quim.
Foi o Demónio que me atentou.
– Bai-te embora.
Cego seja eu como tu se te não mato. Ou te mato ou te amaldiçoo entre a Hóstia
e o Cálice. A ti e a todos os cegos do mundo. Oubiste, alicréu?
– Mata-me, que eu
não saio daqui. Chama o Senhor Abade. Quero-me confessar. Por alma da nossa
mãe, perdoa-me. Foi o Demónio que me atentou.
– O Demónio dou-to
eu. Confessa-te na igreja, bíbora! Aqui tens as calças. Ou as enfias ou te
corto o pescoço.
Daí a menos de um
ai, o ceguinho estava na rua com a guitarra suspensa do pescoço.
Não se soube mais
dele. Ou anda de terra em terra, tocando e cantando novos desesperos, ou,
tísico no fim, o vento lhe deu no peito e o levou até um valo como faz às
folhas mortas.
- In Terra Ingrata,
Editorial Estampa
Clique na imagem para ampliar. Matéria transcrita e editada. Sugestão de JASA. Edição de J. L. Gabão - "Escritos do Douro" em Janeiro de 2012.
Este artigo pertence ao blogue Escritos do Douro. Todos os direitos reservados. É proibido copiar, reproduzir e/ou distribuir os artigos/imagens deste blogue sem a citação da origem/autores/créditos.