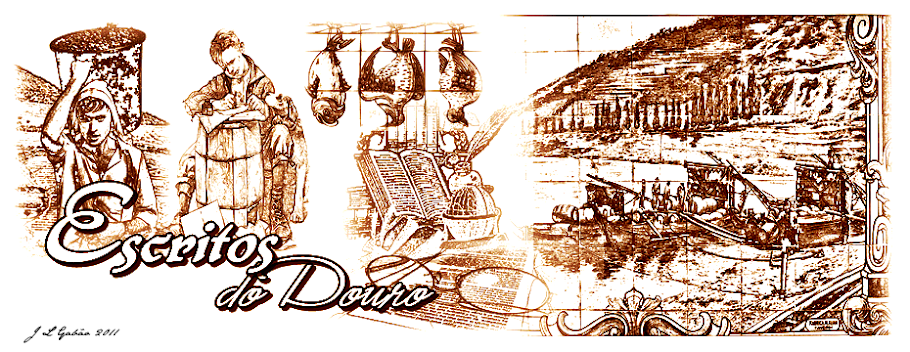Vai, homem, por essas estradas fora, envolvido pela noite que tombou rápida como um instinto, triste como um presságio, no meio de emigrantes de duas gerações, certo de que não é o barulho que faz companhia, mas a cumplicidade dos sentimentos. Vai como quem cumpre um destino, sabendo-se que a vida é como a terra: não tem condições para se transformar num céu. Vai e não feches os olhos, deixa que as lágrimas, num tributo à paixão que deixaste para trás, te inundem o rosto e desaguem, dispersas e quentes, na angústia do teu peito, mar onde se espalham todas as penas, pois só não chora quem gosta apenas de si. Vai, contando, na escuridão que o negrume do asfalto amplia, os faróis das faixas contrárias e a luxúria luminosa das cidades distantes, certezas de que o Mundo se mexe, é grande ou pequeno consoante a compreensão de cada um.
O autocarro veio de Nice, passou por Marselha, e apanhou-me em Montpellier. Na televisão, ao fundo, por cima da cabeça do condutor, passa um filme em que o Stalone se farta de matar e de dar murros que entoam como marteladas em tonel vazio sem portinhola. O despropósito é como a credulidade: aceita-se e entende-se, mas é doloroso quando não se o pode emendar.
Abrem-se os farnéis em Côté de France, um descanso de auto estrada onde estacionam as camionetas lusas. Na frente de um hotel sem luxarias, tipo fórmula 1, estacionam jipes com os tejadilhos repletos de artefactos para a neve. Um chapéu que vai para S. João da Madeira oferece-me – e retribuo – um pedaço de baguette com chouriço. Uma gata - tem olhos de gata -, vinda não sei de onde, mia-me, estremeço, é branca como a que tenho em casa e mascote de quem deixei longe; dou-lhe um migalho de pão que recusa, mas, já aceita um de carne - não gosto destas esquisitices em animais de quatro patas quanto mais de duas -, roça-se nas minhas calças e não me larga, obrigando-me a dividir com ela, até ao fim, as minhas sandes e as minhas saudades. Depois de um café - fraco e desprezível - por sete francos, é uma pressa para as camionetas já com os motores quentes. Um jovem africano, de comovente solicitude, que vem das obras de Marselha, cabelo pintado de loiro e agrafos nas orelhas, não larga os phones e ouve tão alto o rap do seu gosto que um vizinho de assento lhe pede para baixar o som.
Em Toulouse, com um rio-canal de barcaças vazias e outras com roupa a secar, em frente à Gare Matabiau, há despedidas de abraços, beijos e prantos entre novos que ficam e velhos que partem. Uma velhinha (é mesmo velhinha), toda de preto, lenço na cabeça e saco do Carrefour na mão, olha para os assentos, a escolher lugar, e senta-se à minha beira. Encolho-me para que se ajuste no meio de um restolho de saias. Estica-se por cima de mim para dizer um último adeus, fala como se a pudessem ouvir para lá dos vidros fechados: «Não gastes dinheiro em telefone! Quando chegar, ligo-te, ouviste, minha filhinha?!» “Oh! Meu Deus!, tantas vagas e sentou-se logo a meu lado para me avivar a ferida!“. Com o autocarro a desfazer a curva, ainda a velhinha esticava o braço, roçando-me o nariz. “Por que não me deixaste só a olhar para a escuridão a contar as terras e as luzes e as estrelas e os marcos e o tempo que esta carreira demora a ultrapassar um tir e de quantas em quantas horas se revezam os condutores e – caramba! – poder esticar as pernas à minha vontade e colocar a almofada que trouxe de casa à maneira do desassossego das minhas costas? Raio!, não chores, Santa da minha Pátria, não te ponhas aí a limpar os olhos ao lenço, que o meu já está alagado; por favor, não gemas, não engulas os gritos como se fossem poldras dos teus (dos nossos) rios de amargura, nem dês esses suspiros que me acordam os arquejos de uma velhinha como tu, mas do meu sangue, antes da morte a livrar das chagas da vida e do corpo. Por favor, cala-te que me estoiras o sangue!”.
Para lá das estremas citadinas, em recônditos de segredos, erguem-se, no meio de uma veemência luminosa, os tubos-cotos das fábricas das passarolas supersónicas e dos espadas do asfalto.
- Lá está ela, a fábrica onde trabalha o meu genro... – afoita-se a velhinha num lamento, deixando-me embaraçado sem saber se lhe devo replicar ou não.
- Há muitas... - digo-lhe, anódino.
- É uma delas... – utilizando a deixa. - Já lá passei duas ou três vezes, uma confusão, nunca se sabe onde estamos, mas é para aqueles lados... Ele já tem vinte e dois anos de França – tentando introduzir o histórico familiar... - , está sempre a dizer que vem embora, mas nunca mais se decide, e a minha filha cá está com ele, a servir patroas, madames como lhes chamam, que não sabem estrelar um ovo quanto mais estufar uma carne. Depois, os meus netos, sabe o senhor, também já estão habituados aqui, são franceses... É uma vida...
Viro-me para a janela: as últimas fieiras de luzes dos arredores desaparecem. Um desalentado vazio acompanha o movimento do autocarro. “Já sei, vou ter aqui uma velha tagarela que me vai desfraldar a sua vida toda... E se eu, numa próxima paragem, mudasse de lugar, assim como quem não quer a coisa? Pode ser que ela o faça...”. Ajeita-se, esforçando os braços nas pegas do assento, distendendo-se.
- Não estou a incomodar o senhor, pois não? – pergunta, enquanto dá mais uma assoadela.
- Por amor de Deus, minha senhora, esteja à vontade...
- O senhor consegue dormir em viagem?...
- Passo pelas brasas... É conforme...
- É novo... Eu, se não houvesse paragens, só acordava em Vilar Formoso... O senhor também trabalha em França?...
-Não, minha senhora... Olhe, acabou o filme, já se pode dormir... – cortei cerce, talvez friamente.
Encosta-se melhor com o ar de quem diz «este não quer conversa...», levanta o saco e defende-o, em cima do regaço, com as mãos.
- Ó homem! Nem aqui tiras o chapéu?! – ouve-se a mulher do meu permutante da baguette. - Ele descobre-se, alisando os pêlos que lhe restam, e pôe-o nos joelhos. Ela, despachada, arrebata-lho, levanta se, abre um cacifo junto ao tejadilho e arremessa-o para lá. - Quando voltarmos a parar, vais buscá-lo, se quiseres!
Ele fecha os olhos a fingir-se tomado pelo sono.
A camioneta avança com as luzes de presença acesas que se reflectem na noite num acompanhamento fotocopiado. Tarbes ficara perdida na discussão do chapéu. À minha direita, numa serenidade de folga peregrina, Lourdes é uma devoção por cumprir. Em Pau, com os seus vinhedos de Lescar indefinidos nas trevas e os segredos nucleares da França bem guardados, entraram mais dois rostos de olhos vermelhos. Contorna-se Pax, de Igrejas com vistosas iluminuras, e pára-se em St. Jean de Luz feito ponto de encontro dos viajantes da madrugada. É um estacionamento de muitas encruzilhadas, misturas dos termos da emigração: Paris, Bruxelas, Zurique, Estugarda. Entoam risos de reencontros, fecham-se rostos de sonos trocados, dormem inocências em colos derreados, bebem-se cafés amargos e despejam-se bexigas doridas de tanto encolher.
A velhinha trinca pão com fiambre; resolvo não me mudar, não tenho coragem, peço-lhe licença para me sentar junto à janela.
- Então como se chama a senhora? – desenho um sorriso de fraternidade, emendando a secura anterior.
- Gracinda, sou Gracinda há oitenta e sete anos...
- Bonito e bem conservado nome...
- Ah!, bonito ou feio é um nome... Agora bem conservado...E o senhor?
- Sim?...
- Qual é a sua graça?!...
- Ah!, sim, sim... João!
- Era o nome do meu falecido... Que Deus o tenha em bom lugar. Já lá vão seis anos – o seu peito sobe e desce num suspiro.
- É a vida...
- Vida triste, meu senhor, vida triste. Custa muito viver só, a filha, que Deus me deu, longe...
- Então, podia ficar em França com ela...
- Não gosto daquelas terras, as gentes são meias esquisitas, prefiro a minha casinha, a minha é um modo de dizer, da minha filha e do meu genro, que foram eles que a fizeram com a graça de Deus e do suor deles... E, depois, sabe, eles têm os modos deles, querem estar à sua vontade, sabe como é... A gente cria os filhos e, enquanto precisam, estão connosco, depois, quando precisamos nós, abalam eles...
- Já faltou mais para chegarmos D. Gracinda...
- Ai Dona...Trate-me por Gracinda, senhor. Dona é para gente fina...
- Então a senhora Gracinda é mesmo fina... Quanto mais velho se é mais fino se fica.
- Mais burros ficamos, quer o senhor dizer... Só servimos para entulho....
- Nunca diga isso, minha senhora... Nunca diga isso... Conforme está o Mundo, se não fossem os velhos, já ele tinha acabado...
- Ora... Ora... O futuro é dos novos, senhor...
- Não há futuro sem um grande passado...
A D. Gracinda olhou-me como se me estudasse numa idosa sapiência, tocou-me ligeiramente no braço, num à vontade de comunhão, e disse:
- Já não vamos viver para botar a mão a isto... – apertando o tabaqueiro. – Acho que me está a chegar o sono, sabe o senhor?... – e calou-se.
O autocarro, em Hendaye-Irun, já em território espanhol, encosta junto da delegação da Guardia Civil e abre as portas. Um agente entra e confere as documentações, passageiro a passageiro. Terminada a vistoria, aproxima-se do africano de cabelo loiro, manda-o sair e leva-o para o interior do Posto. Outro paramilitar vasculha as bagagens, escancaradas pelas portas levantadas até aos vidros, chama um cão que as fareja ansioso, dá-lhe um pedaço de qualquer coisa que parece um biscoito (deve ser marca Pavlov...), até se postar, de traseiro no chão, ao lado do amo. O jovem dos piercings vem buscar a sua maleta, diz que fica preso por falta de documentação legal e despede-se. «Espera aí, pá! Precisas de dinheiro?», pergunta-lhe o chofer; diz que não com um sorriso agradecido e triste. O autocarro apronta-se para a desinfecção repleto de desabafos: «E logo estes espanhóis que não perdoam nada!», «Porra! O gajo, se calhar, nem carta de sejour tinha!», «Também vendem bilhetes sem perguntarem por papel nenhum, só querem é despachar carne!», «Já vai andar de bolandas, outra vez recambiado! Ele vinha de Nice não era? Ah!, Marselha, coitado do moço...» À esquerda das colunatas em imitação romana, uma equipa de fatos espaciais sulfata os pneus que passam num tapete esponjoso anti-febre aftosa. Arranca de vez, limpo do risco da peste, mas sujo pelo pecado da severidade policial.
- Não era a hora dele – sentenciou a senhora Gracinda que, no passar do incidente, só dizia: coitadinho do rapaz...
Atravessa-se o chamado País Basco - geografia nacionalista a que algum Sul Francês não escapa, de toponímia arrevesada, descarnada do castelhano, mesmo quando este emparceira no nome – a altas horas, num desconsolo de curvas eriçadas em declives que a noite ilude.
A velhinha já não vai comigo. O sono descomprimiu-lhe o corpo e afastou-a para longe. O seu ressonar sacode as abas do lenço que lhe envolve a cabeça. Num repentino, mexe-se a procurar posição, descai ligeiramente para a minha esquerda, sinto-lhe os ossos decenários, o cheiro a aldeia, a campo, a serra, a giestas, a suor. “Deixa-te ir, Mulher, descansa o teu corpo no meu como eu gostaria que amanhã mo fizessem, comungo do teu sacrifício, do teu amor pelos que geraste, da pena por um vazio, por uma falta que nenhum dinheiro paga, que nenhuma conversa faz esquecer, nenhum sorriso disfarça. Deixa-te ir...” .
Desfilam as luzes deste Euskadi de ódio e de morte, Vitória, Navarra, S. Sebastian (Donastia), Bilbau, indicativos de conflito nos cruzamentos das estradas, dores de cabeça madrilenas. O dormir da senhora Gracinda contagia-me, abandono-me à indolência, ponho a almofada junto à janela, despego-me do corpo envelhecido, tiro os óculos, meto-os no bolso da camisa. Ela, sem noção da circunstância, endireita-se e espreme-me. Amoldo a cabeça ao travesseiro improvisado e deixo-me ir por uma planície sem fim.
Acordo com os contornos da terra ainda indefinidos numa tela naife. Apetece-me desenferrujar as pernas no corredor do autocarro que, ronceiro, como um barco de leme automático, avança num contraído desespero de chegar. A velhinha - mais velhinha do que os anos porque a estes somava dores que os aumentava - continuava a ventar o lenço. Lentamente, vão-se declarando as formas: já se distinguem os fios eléctricos, as casas humedecidas e emudecidas na manhã de domingo, as sinalizações quilométricas, as medas de trigo, os regos das semeaduras, as saliências dos morros, os rostos dos camionistas ultrapassados que parecem transportar carradas de paciência, as pequenas barragens com a água das chuvas defendida por plásticos. O sol, no risco do horizonte, força as nuvens que não o deixam romper a bolha de água. O dia, assim, apresenta-se embezerrado, sem chama, numa traição a quem o deseja largo e elucidativo.
Pára-se em Nava del Rei para um pequeno almoço quente. A minha companheira, à paragem da camioneta, deu um salto, contemplou-me surpresa, desenlaçou o lenço, voltou a compô-lo, sorri-lhe e aproveitei para esticar-me um pouco.
- Isso é que foi dormir...
- Não o incomodei pois não?
- Nada...nada... Também dormi até agora...Vamos tomar qualquer coisa...
- Quero é mexer as pernas... Parece que tenho cimento...
Os WC e os balcões enchem-se; um jovem barbudo, de boina basca, merca um porta-chaves com o ícone de Che Guevara; a senhora Gracinda tira, do saco do Carrefour, um migalho de pão, convido-a para um pan com mantequilla, mas é o aceitas; levam-se leques e caramelos para oferecer e gasta-se o resto do tempo - enquanto os motoristas não vêm da sala da comissão - a andar para cá e para lá, desentorpecendo as pernas. O chão parece coberto de sincelo, agasalhado por um manto de vapor; cheira a terra e a erva molhadas como se o dia se levantasse de um sono prolongado.
A reentrada no transporte faz-se em algazarra, bexigas aliviadas e barrigas satisfeitas, alguns deixam-se ir de pé com as mãos nas cruzes.
- Maria, antes do meio-dia estamos na Guarda! - atira, alegre, um homem.
- Esqueceste-te de dizer se Deus quizer!- objecta a consorte, enquanto ele engole em seco e faz-que-sim com a cabeça.
O sol não abre e nem o nome de Portugal, escrito junto dos campos de Salamanca onde o gado se espalha, realiza esse desejo.
Em Vilar Formoso, a velhinha, aflita por saber qual era o novo autocarro que a levaria até Celorico, estende-me os braços na despedida. Só então reparo que nas suas faces de rugas de muito passado cintilam uns olhos de muito futuro: têm o brilho da lua cheia numa noite de Esperança...
Tomo a ligação para o Porto e repito, agora ao contrário, a paisagem beirã do IP5. O novo condutor mete uma cassete a cheirar o bacalhau. Para distrair o meu encruamento espalho os olhos pelos montes que se me afiguram ainda mais penalizados que o natural.
O sol não vem.
Não faz mal, ele está do outro lado das montanhas, em terras de França, sinto-o nos meus ombros, nos meus olhos, e recolho-o só para mim, aqui dentro, onde se guarda a saudade de um amor incomparável.
- De M. Nogueira Borges* extraído com autorização do autor de sua obra "O Lagar da Memória". O livro "O Lagar da Memória" foi apresentado dia 12 de Março de 2011 na Casa-Museu Teixeira Lopes, em Vila Nova de Gaia . Informações para compra aqui. Também pode ler M. Nogueira Borges no blogue "ForEver PEMBA". A imagem ilustrativa acima é recolhida da internet livre.
*Manuel Coutinho Nogueira Borges é escritor e poeta do Douro-Portugal. Nasceu no lugar de S. Gonçalo, freguesia de S. João de Lobrigos, concelho de Santa Marta de Penaguião, em 12.10.1943. Frequentou o curso de Direito de Coimbra, cumpriu o serviço militar obrigatório em Moçambique, como oficial mil.º e enveredou pela profissão de bancário. Tem colaboração dispersa por diversos jornais, nomeadamente: Notícias (de Lourenço Marques); Diário de Moçambique (Beira), Voz do Zambeze (Quelimane), Diário de Lisboa, República, Gazeta de Coimbra, Noticias do Douro, Miradouro, Arrais e outros. Em 1971 estreou-se com um livro de contos a que chamou "Não Matem A Esperança". (In 'Dicionário dos mais ilustres Trasmontanos e Alto Durienses', coordenado por Barroso da Fonte. Manuel Coutinho Nogueira Borges está no Google. Manuel Coutinho Nogueira Borges, foi Alferes Milº. do Comando de Agrupamento 1985 - Moçambique (Quelimane e Porto Amélia)de 1967 a 1969 e faleceu no dia 27 de Junho de 2012 na cidade de Vila Nova de Gaia - Portugal.
Clique nas imagens para ampliar. Edição de J. L. Gabão para o blogue "Escritos do Douro" em Janeiro de 2014. Este artigo pertence ao blogue Escritos do Douro. É permitido copiar, reproduzir e/ou distribuir os artigos/imagens deste blogue desde que mencionados a origem/autores.