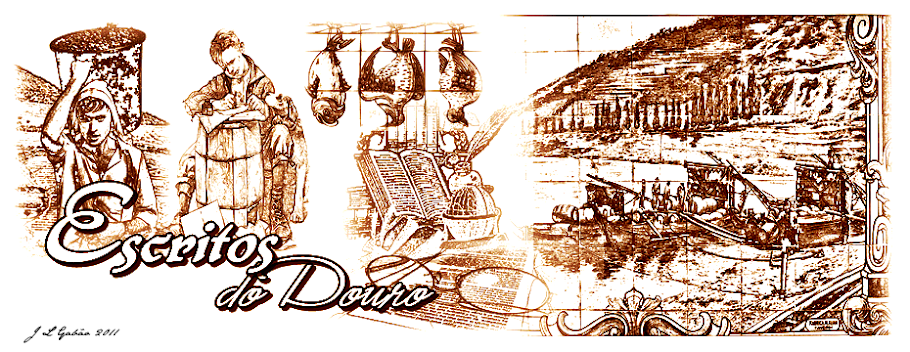Clique na imagem para ampliar
Quando estamos longe, emociona-nos ler... e reler:
Rebuçadeiras da Régua foram homenageadas.
As 12 mulheres que confeccionam e vendem os rebuçados da Régua foram homenageadas pela autarquia local, por preservarem esta doce tradição que leva o nome da cidade duriense a todo o país. Isto numa altura em que se prepara o registo da marca.
A Câmara Municipal de Peso da Régua está a desenvolver o processo de registo da marca «Rebuçados da Régua». Neste âmbito, e também a propósito das comemorações do Dia Internacional da Mulher (8 de Março), o município homenageou as 12 mulheres que ainda confeccionam e vendem os rebuçados.
«Olha o rebuçado da Régua. Levem rebuçados da Régua», apregoa Maria José Leitão, 63 anos e que há mais de 20 vende os doces tradicionais junto à estação de caminho de ferro. Primeiro no comboio, por onde muitos chegavam e partiam, agora também junto aos barcos, que a partir da primavera trazem milhares de turistas ao Douro. É por aqui que estas mulheres se espalham, carregando no braço os cestos de vime onde trazem os sacos de nove rebuçados que vendem a um euro. Estes doces começaram por ser vendidos nas festas e romarias. Não se sabe ao certo qual foi a sua origem ou há quanto tempo surgiram os rebuçados. «Isto já é muito antigo», garantiu Maria José Leitão.
Sabe-se que se evidenciaram a partir da década de 30 do século XX e sabe-se também que muitas mulheres criaram os seus filhos a vender estes doces.
«Mas se fosse agora não os criava. O negócio está muito fraco e depois tem esta coisa de dizer que é a crise, depois também não querem engordar, depois são os diabetes, depois é isto e é aquilo, mas não é, é apenas uma desculpa», salientou a vendedora.
Maria diz que, às vezes, passa dia a carregar um cabaz de rebuçados que «não se vendem».
As 12 mulheres que confeccionam e vendem os rebuçados da Régua foram homenageadas pela autarquia local, por preservarem esta doce tradição que leva o nome da cidade duriense a todo o país. Isto numa altura em que se prepara o registo da marca.
A Câmara Municipal de Peso da Régua está a desenvolver o processo de registo da marca «Rebuçados da Régua». Neste âmbito, e também a propósito das comemorações do Dia Internacional da Mulher (8 de Março), o município homenageou as 12 mulheres que ainda confeccionam e vendem os rebuçados.
«Olha o rebuçado da Régua. Levem rebuçados da Régua», apregoa Maria José Leitão, 63 anos e que há mais de 20 vende os doces tradicionais junto à estação de caminho de ferro. Primeiro no comboio, por onde muitos chegavam e partiam, agora também junto aos barcos, que a partir da primavera trazem milhares de turistas ao Douro. É por aqui que estas mulheres se espalham, carregando no braço os cestos de vime onde trazem os sacos de nove rebuçados que vendem a um euro. Estes doces começaram por ser vendidos nas festas e romarias. Não se sabe ao certo qual foi a sua origem ou há quanto tempo surgiram os rebuçados. «Isto já é muito antigo», garantiu Maria José Leitão.
Sabe-se que se evidenciaram a partir da década de 30 do século XX e sabe-se também que muitas mulheres criaram os seus filhos a vender estes doces.
«Mas se fosse agora não os criava. O negócio está muito fraco e depois tem esta coisa de dizer que é a crise, depois também não querem engordar, depois são os diabetes, depois é isto e é aquilo, mas não é, é apenas uma desculpa», salientou a vendedora.
Maria diz que, às vezes, passa dia a carregar um cabaz de rebuçados que «não se vendem».
Sónia Tavares, 32 anos, aprendeu a fazer os rebuçados com a mãe e começou a vender há 16 anos. Foi a necessidade que a obrigou a ir «para a estação» mas hoje não se arrepende.
«Conseguir trabalhar e sustentar o meu filho é o que me interessa», sublinhou.
Esta vendedora também se queixa que o negócio «já não dá como dava antigamente», mas que «lá vai dando para os gastos». Os clientes são na sua maioria portugueses, muitos turistas que chegam ao Douro Património da Humanidade. «Uns compram para provar, outros para levar de oferta», referiu.
E é assim que o nome da Régua segue viagem um pouco para todo o país.
Durante o dia estas mulheres calcorreiam a Régua. À noite confeccionam os doces. A receita é simples: basta açúcar, mel, limão e manteiga. Mas o segredo que lhes dá o «verdadeiro sabor» é algo que recusam partilhar.
O presidente da Câmara da Régua, Nuno Gonçalves, disse que os rebuçados são «um produto que faz parte da cidade, das suas tradições e que a identifica».
«Este ano quisemos homenagear as rebuçadeiras e, através delas, os rebuçados da Régua, que são um produto que queremos valorizar, proteger e divulgar», salientou.
Para que os doces «não sejam roubados» à Régua, a autarquia está a registar a marcar e pretende, depois, até certificar este produto.
Nuno Gonçalves admite que as actuais exigências poderão obrigar a alguma alteração do ponto de vista da produção dos rebuçados, mas espera que o seu sabor original «não seja abalroado pela legislação».
Café Portugal | sexta-feira, 4 de Março de 2011
Rebuçados da Régua - Como fazer!
“Leve o açúcar a ponto de rebuçado com duas cascas de limão e o sabor de uma ou duas ervas aromáticas (é o segredo das rebuçadeiras). Vaze-o numa pedra de mármore ou de lousa, previamente untada com manteiga ou margarina (antigamente, com banha ou azeite), e, enquanto estiver quente, vá cortando os rebuçados um a um, para depois os embrulhar em forma de laçarotes.
Nota: os aromas podem variar muito; vão do mel ao tomilho, da canela à infusão de flor de laranjeira... As temperaturas de aquecimento do açúcar também têm influência na coloração dos rebuçados, mais ou menos escuros, assim como a utilização do tipo de açúcar (branco ou amarelo)...” O papel de embrulho é o vegetal, lembrando os famosos doces embrulhados saídos de conventos.
Nota: os aromas podem variar muito; vão do mel ao tomilho, da canela à infusão de flor de laranjeira... As temperaturas de aquecimento do açúcar também têm influência na coloração dos rebuçados, mais ou menos escuros, assim como a utilização do tipo de açúcar (branco ou amarelo)...” O papel de embrulho é o vegetal, lembrando os famosos doces embrulhados saídos de conventos.
Na Pesqueira com sabor a rebuçados da Régua
“vai uns rebuçadinhos caseiros? Um euro o pacotinho”.
Arménia Jeitosa, rebuçadeira de longa data, desfila receitas, mas também guarda segredos.
No coração de São João da Pesqueira provam-se os rebuçados da Régua. A praça soalheira convida a um deambular matinal que não esconde uma pontinha de preguiça. Uma indolência que tenta ser compensada pelo uso da objectiva. Na máquina fotográfica repousam quatro ou cinco instantâneos. Tudo ângulos infelizes, sem justiça pela harmonia e inspiração das arcadas e fachadas do coração arquitectónico de São João da Pesqueira.
A Praça da República é, toda ela, espaço urbano cuidado, de dimensão comedida, à proporção da sede de conselho. É uma escala de uma singeleza que nos faz, por impulso, querer enquadrar no plano o elemento humano. Apetece, por isso, ouvir histórias, dar uso às palavras, emoldurar narrativas no contexto do lugar. Falta, contudo, o mote. A praça vazia frustra as intenções. Resta esperar na esplanada, madrugadora, armada num dos recantos da praça. As nove horas repicam num sino indeterminado. Próximo, duas portadas abrem-se à manhã. De dentro “salta” um par de cadeiras, com ares de longo uso. Breve, sobre as cadeiras, vão assentar dois cestos. Entre vime, um ninho de pano aconchega umas quantas mãos-cheias de pacotinhos rematados com laços. Arménia Jeitosa, como se apresenta, inicia uma vez mais a sua rotina diária, que sintetiza num “adoçar a vida e a boca de quem por aqui passa”.
Há, aqui, história com pretexto e contexto para a primeira fotografia com conteúdo do dia. Espicaça-se a conversa. Natural da Régua, Arménia Jeitosa assenta negócio desde há 35 anos em São João da Pesqueira. Frente à loja, verdadeiro empório de utilidades domésticas, apregoa os seus rebuçados caseiros da Régua.
A rebuçadeira aborda com discrição e sem grandes insistências:
“vai uns rebuçadinhos caseiros? Um euro o pacotinho”.
Nâo é caro, considerando o labor na confecção e o cuidado extremoso colocado em cada embrulhinho.
“É a senhora que faz?” – salta a pergunta.
A resposta, espontânea, enfatiza o óbvio da afirmação:
“com certeza. Há mais de 50 anos.”
Nova pergunta:
“E tem segredo?”
“Não há segredo nenhum. Junta-se à água as cascas de limão, mais a canela, uma colher de chá com mel e vai tudo a ponto. Depois vai à pedra com a manteiga, corta-se, rebola-se e embrulha-se como aqui vê”.
Numa assentada Arménia Jeitosa derruba mitos com ares de segredo e dá a receita. Não basta, contudo, ter a fórmula, é preciso ter mão, vontade para fazer e arte para vender.
Diz-nos Arménia Jeitosa:
“já há poucas rebuçadeiras. Com o tempo esta arte vai desaparecer”. E há clientela. “Não faltam clientes portugueses e os ingleses adoram estes doces”, conta Arménia Jeitosa que junta à venda na praça a distribuição dos rebuçados em pastelarias.
Arménia desafia a provar um dos rebuçados. O pacotinho branco desfolha-se com facilidade, revelando o coração doce, cor de mel. Prova-se, determinando sabores; procurando na pérola de doçura o mel, o limão, a canela. Baila uma dúvida. Há algo de indeterminado no rebuçado. Tem que haver segredo. Arménia Jeitosa sorri. Rebuçadeira que se preze tem sempre um trunfo guardado.“Vamos à fotografia?”.
Jorge Andrade | segunda-feira, 2 de Março de 2009 - Fonte "Café PORTUGAL"
Pode também ler - Cartas de Longe: Um pouco mais da Régua - Rebuçados...